
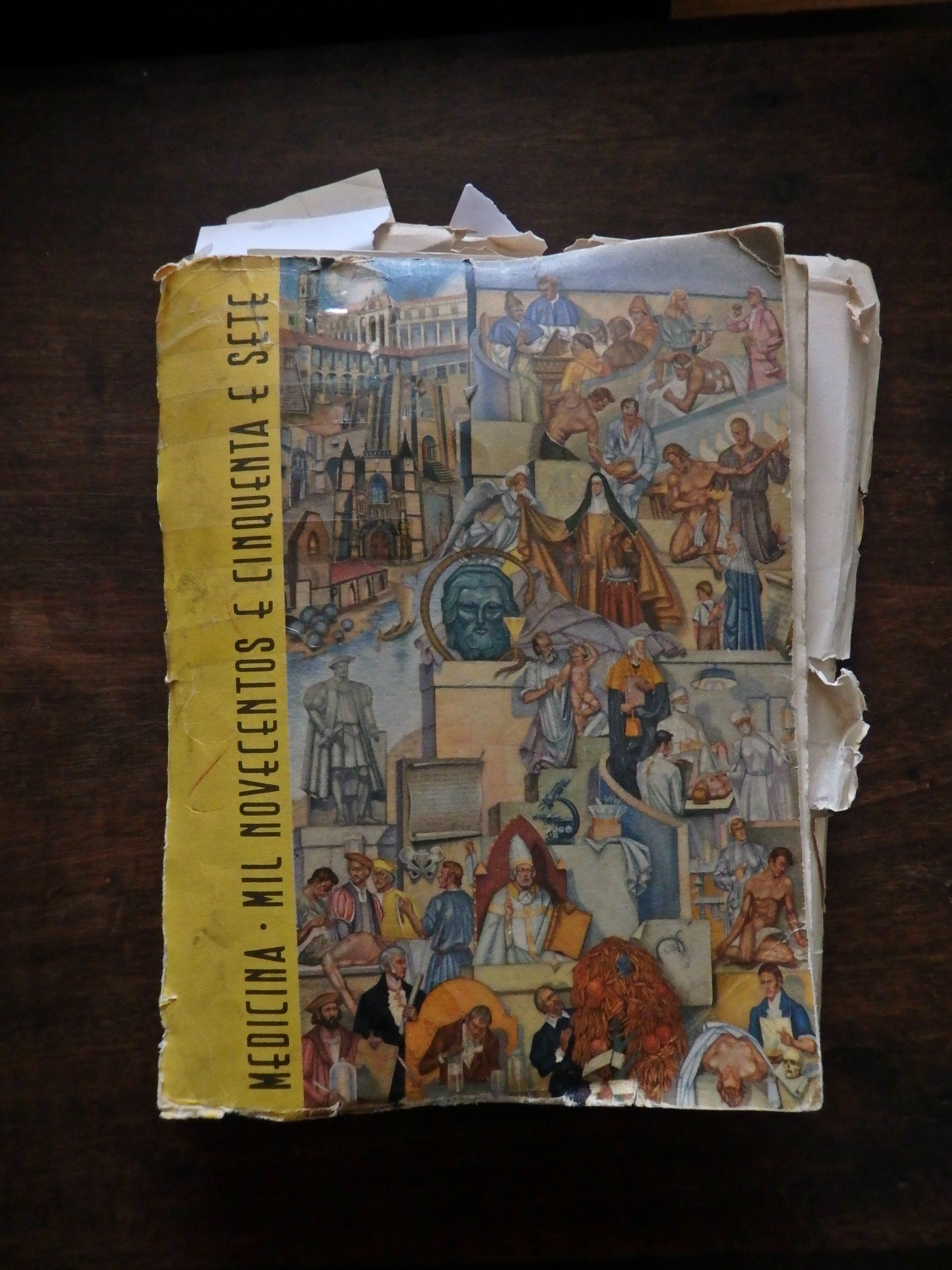
O astronauta da Medicina portuguesa

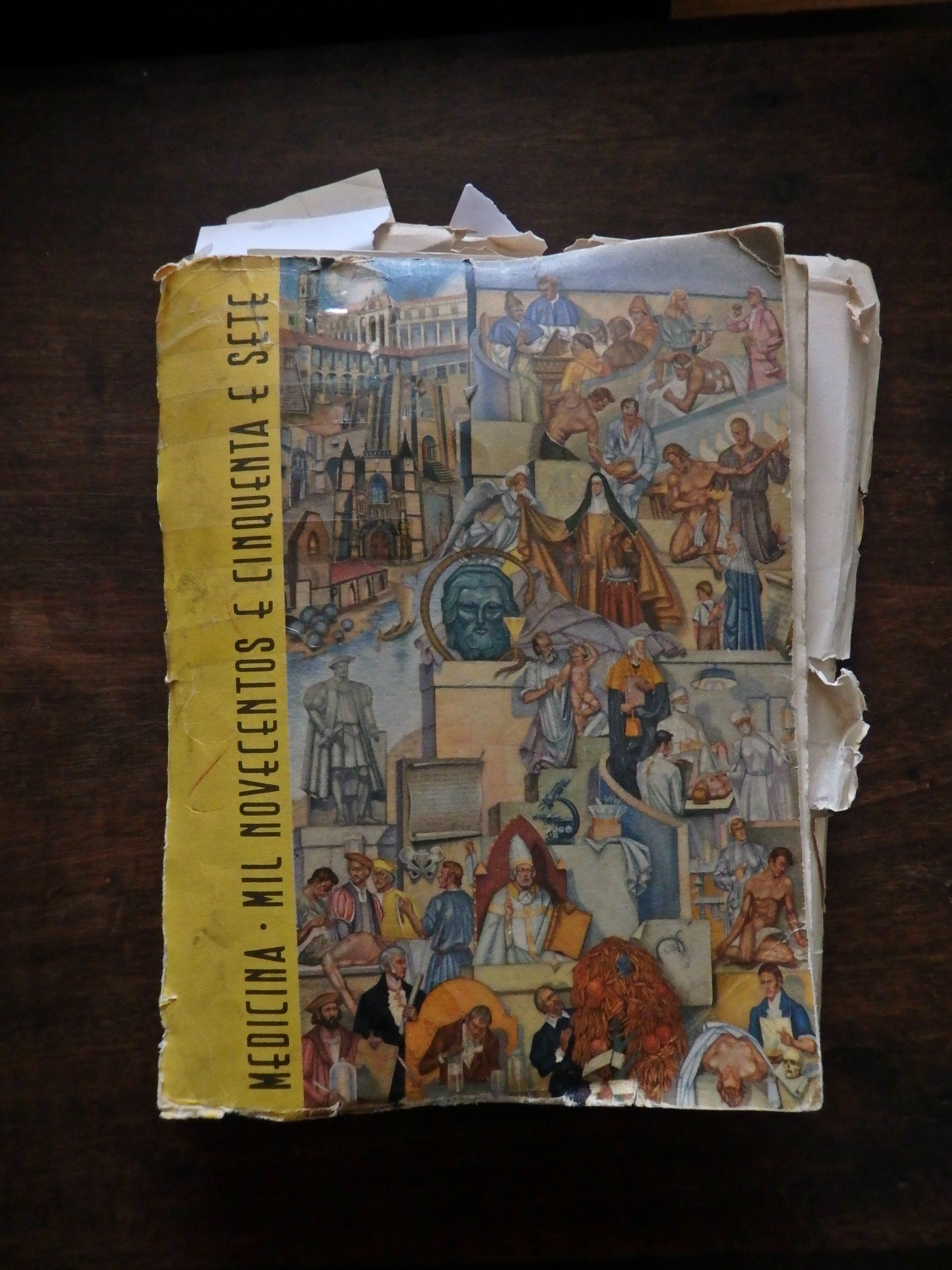
A época difícil levou a interrupções e alterações no percurso académico. Entre a quarta classe e a etapa seguinte houve um ano de intervalo. “Depois, quando acabei o curso ainda não havia disponibilidade económica. Quis ir para a América, mas a minha mãe teve um desgosto tão grande que eu desisti. Entrava lá com facilidade, já sabia que podia ter um emprego dentro da Universidade da Pensilvânia”. Para trás ficou a paixão pela Física, que continuou a alimentar ao longo da vida, e a ideia de se tornar físico nuclear. Para Alexandre Linhares Furtado, a única hipótese passou a ser a Escola do Exército, designação dada à data à atual Academia Militar, responsável pela formação dos oficiais do Exército Português. “Dava roupa, cama lavada, etc. Quando já estava com o processo a decorrer, surge a hipótese de uma bolsa de estudo que me foi concedida pela Junta Geral, que era de 400 escudos por mês [nota do autor: dois euros]”.
No Atlântico ficaram o arquipélago açoriano e as recordações familiares. No continente surgiu Coimbra. “Era um meio mais barato” que Lisboa ou Porto. Uma das imagens que mais marcou Linhares Furtado foi a primeira vez que viu a Alta, a zona onde atualmente se ergue todo o Polo I da Universidade de Coimbra. “Parecia ter sido bombardeada... Havia uma casa de pé, que pertencia ao professor Bissaya-Barreto”, ilustra. De resto, as aulas do curso de Medicina eram esparsas. “Dava-se Química Fisiológica na antiga maternidade, tal como Histologia, onde é agora a Administração Regional de Saúde do Centro, em frente ao João de Deus”. “As aulas começavam quando começavam”, o que causou enorme espanto a alguém que sempre pautou a sua postura pela pontualidade. Apesar disso, Linhares Furtado faz questão de referir que “havia professores muito exigentes e cumpridores, mas a própria dinâmica social era completamente diferente do que é atualmente, menos organizada”.
A pergunta torna-se inevitável: Lisboa e Porto, ao nível da Medicina, eram similares, ou havia outro tipo de estrutura? “Lisboa tinha já uma boa faculdade de medicina, que ainda hoje é um edifício lindíssimo, e o Porto também já tinha um hospital muito bom. Depois foram construídos o Santa Maria e o São João, que são grandes hospitais, e que se têm mantido ao longo de cerca de 60 anos”. Os dois seriam inaugurados na década de 1950, após mais de dez anos de construção - o Santa Maria em 1953 e o São João em 1959, desenhados pelo alemão Hermann Distel, que teve também a seu cargo o que poderia ter sido o novo hospital de Coimbra. “Ele estava projetado na mesma altura dos de Lisboa e do Porto. Tinha o mesmo estilo, mas houve tanta discussão que ainda vim apanhar essa fase, já como primeiro assistente, e representei a faculdade em algumas reuniões”, recorda Linhares Furtado.
O novo edifício dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) só seria inaugurado já em 1987, em Celas. O antigo médico considera-o um marco indelével, mas ressalva que já se nota a passagem do tempo: “a nível arquitetónico, no aspeto funcional, é um edifício excecional. Agora, já lhe puseram uns excertos...”. Para si, a grande falha talvez esteja na articulação com o ensino, dado que “não é um hospital faculdade, no verdadeiro sentido da expressão”, como os já referidos Santa Maria e São João, que “têm uma construção de raiz, com belíssimas instalações para uma faculdade de medicina”.
Contudo, a evolução em relação às antigas instalações, no Colégio de São Jerónimo e no Real Colégio das Artes, é por demais evidente. Quando questionado sobre as condições à época, Linhares Furtado é lesto em classificá-las como “horrorosas”. “Quando eu penso nisso...”, prossegue, relembrando que conseguia saber a temperatura exterior aproximada através de um pequeno pormenor. “Saía de uma sala de operações, que não tinha termómetro, mas que tinha ora sobreaquecimento ora frio imenso, só com a bata em cima do corpo. Atravessava o claustro e, nessa altura, havia uma torneira que estava sempre a pingar - quando havia gelo, eu sabia que estavam -4ºC”.
É precisamente nos antigos Hospitais da Universidade de Coimbra que se começa a desenhar uma etapa fundamental – o primeiro transplante, provavelmente um pequeno passo para Linhares Furtado, mas um grande passo para a medicina portuguesa. A referência não é inocente, dado que a intervenção é concretizada no mesmo dia em que Neil Armstrong pisa a Lua – o calendário marca 20 de julho de 1969. Recue-se mais de uma década, ainda o jovem Linhares Furtado não era licenciado, para se perceber melhor o que levou a esse dia. “Como não tinha família aqui, tinha amigos, mas não tinha família, comecei a frequentar a urgência, mesmo durante a noite, passava lá muitas horas”, refere. “A primeira traqueostomia que fiz, devia estar no meu quarto ou quinto ano. Um dia apareceu uma criança de três ou quatro anos, com uma larangite aguda, e os médicos de serviço ficaram aflitos. A criança estava roxa, a morrer. Já havia um grande à vontade entre todos e eu disse «Isto só há uma coisa a fazer, uma traqueostomia». «Faça-a você!», foi a resposta. Já tinha estudado todas essas coisas de urgências e salvou-se a criança.”
20 de julho de 1969. “A concentração no doente era tal que eu não tenho nenhuma lembrança do Homem ir à Lua. Acho que já tinha uma televisão a preto e branco, mas nem sei se vi imagens, se não. As minhas recordações são construídas a posteriori. Pelo contrário, as imagens que tenho do transplante, do decurso da operação, essas são reais, do momento”, reitera Linhares Furtado. A cirurgia correu bem, tal como o pós-operatório, até à véspera do paciente ter alta. “Fez, provavelmente, uma pequena rejeição ou uma pequena trombose da artéria, nunca ficou bem esclarecido”. Perante as possibilidades de diagnóstico, colocou-se a hipótese de levar o doente à Radiologia. “As condições eram muito más, tinha muito receio de qualquer infeção, não queria levar o doente lá abaixo”. Decide dar-lhe mais uma dose de soro antilinfocitário. “Desencadeou uma reação brutal na coxa, de tal forma violenta, com febre gravíssima, que tivemos de decidir. Ou perdemos o doente, ou o doente morre, porque aquilo podia transformar-se em sépsis de um momento para o outro. Suspendemos a medicação e perdeu o rim. Voltou à diálise, mas não havia possibilidade de usar um rim de cadáver. Só em 1976 é que surgiu a lei que o permitia”.